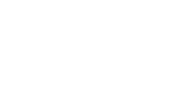Blimunda Sete-Luas
Blimunda Sete-Luas (José Saramago, Memorial do Convento)
Personagem central do romance Memorial do Convento (1982), de José Saramago, Blimunda pertence a uma linhagem de importantes personagens femininas saramaguianas, inaugurada por M., de Manual de pintura e caligrafia (1977). Inspirada em Pedegache, uma rapariga portuguesa residente em Lisboa no tempo de D. João V (cf. Chaves, 1983: 47-48; 162-163), Blimunda de Jesus ou Sete-Luas, como o padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão a alcunha (Saramago, 1982: 90), é, provavelmente, a mais conhecida e fascinante mulher da constelação ficcional de José Saramago. No capítulo final do romance surge também nomeada como a Voadora, “por causa da estranha história que contava” (356).
Possuidora de poderes extraordinários que lhe permitem, quando em jejum, ver “o que está dentro dos corpos, e às vezes o que está no interior da terra” (78), o que justifica a ligação do romance à categoria das narrativas não naturais (cf. Richardson, 2011: 95), é ela a responsável pela recolha das duas mil vontades de homens e mulheres que, com o âmbar e o éter, sob a luz do sol, fazem voar o sonho quimérico tornado passarola do padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão. Um sonho, de “aparente existência real”, que “condensa os desejos de transformação e de fuga a mundo castrador e claustrofóbico” e “representa a ambição que os homens do século XVIII tinham de modificar e de experimentar o universo empírico que começavam a descobrir, servindo-se de instrumentos científicos” (Marinho, 2009: 107). Porém, antes de os seus olhos agudos viajarem pelo interior das pessoas, eles servirão para, na abegoaria da quinta do duque de Aveiro, em S. Sebastião da Pedreira, inspecionar os materiais, descobrindo “a fraqueza escondida do entrançado” ou “a bolha de ar no interior do ferro” (Saramago, 1982: 90) do pássaro-máquina construído ao som da música mágica do cravo de Domenico Scarlatti, o músico que de Londres tinha vindo contratado para ensinar música à infanta Maria Bárbara.
Emprestado desde 2012 para título da revista digital da Fundação José Saramago, para a ópera de Azio Corghi estreada no Teatro Lírico de Milão em 20 de Maio de 1990 e para uma adaptação dramatúrgica por Filomena Oliveira e Miguel Real, o nome gerúndio e excêntrico de Blimunda, em que ecoa “o som desgarrador de violoncelo” (Saramago, 1990: 29), duplica, portanto, a dimensão singularmente extraordinária da personagem, traduzida não apenas nos atos que protagoniza mas também na sua caracterização física e psicológica. Por isso nos adverte o narrador de que “voar é uma coisa simples comparando com Blimunda” (Saramago, 1982: 65), a rapariga que vemos transformar-se em mulher nos vinte e oito anos em que decorre a ação do romance e ao longo dos quais contracena com Baltasar Mateus, o Sete-Sóis, na construção da passarola e numa vivência amorosa que faz do jogo afetivo que vivem uma das mais belas histórias de amor da literatura em língua portuguesa.
Abençoados por Bartolomeu Lourenço, em cerimónia ritual de (a)casa(la)mento simples e informal (55-56), depois sancionada por João Francisco e Marta Maria, pai e mãe de Baltasar, que como filha a aceitam (102), os laços relacionais vividos pelo par Sete-Sóis e Sete-Luas, os guardiões “de uma utopia” (Marinho, 2009: 107), contrapõem-se, pois, aos protagonizados pelo par real, D. João V e D. Maria Ana Josefa. À descrição caricatural dos encontros amorosos do régio casal (Saramago, 1982: 15-18) opõem-se, por conseguinte, os momentos em que, mais ou menos jovens, Baltasar e Blimunda se amam de almas, de corpos e de vontades conjugadas porque, “se a ele apeteceu, a ele apetecerá, e se ela quis, quererá ele” (75). Assim acontece na primeira noite que passam juntos e em que Blimunda, então com dezanove anos, perde a virgindade (57); no palheiro de Morelena onde, simplesmente, “Blimunda levanta as saias e Baltasar deslaça as bragas” (138); ou, anos depois, na passarola, onde “em profunda escuridão se procuraram”, numa cama de folhagem, servindo as próprias roupas despidas “de abrigo e enxerga” (270-271).
A consciência da passagem do tempo que várias referências inscrevem na narrativa, no decurso da qual, na linha de outras mulheres que povoam a ficção de José Saramago, a personagem contribui para a abertura de novos horizontes na vida do companheiro, não encontra tradução direta, no entanto, em um processo de figuração que evidencie o seu progressivo envelhecimento.
Com efeito, o retrato traçado é sempre, ou quase sempre, o mesmo: o corpo “alto e delgado”; o ar, “estranho”, “com aquele cabelo ruço”, “cor de mel sombrio” (55-89); os olhos, “excessivos” (178), capazes de aliar o olhar ao ver, são “claros, verdes, cinzentos, azuis quando lhes dava de frente a luz, e de repente escuríssimos, castanhos de terra, água parda, negros se a sombra os cobria ou apenas aflorava” (103). Quase sempre, então, a mesma Blimunda, em cujo regaço Baltasar pousa a cabeça para que ela lhe possa catar piolhos (89). Quase sempre aquela que, jovial e infantilmente, se enfeita com brincos de cerejas nas orelhas para se mostrar a Baltasar, em cena que leva Domenico Scarlatti a comparar as personagens a Vénus e Vulcano (168).
Ainda que podendo passar despercebida, em tendência que se avolumará na ficção narrativa escrita e publicada depois do virar do século XX, a intertextualidade interartística criada (com a tela “O nascimento de Vénus” do italiano Sandro Botticelli ou, posteriormente, com a versão do francês William-Adolphe Bouguereau) coadjuva a construção de um modelo mental da personagem. É este que colmata os vazios deixados pela ausência de métodos tradicionais de caracterização, obedientes a listas mais ou menos pormenorizadas de traços físicos e/ou psicológicos, e assim permitindo, no imediato, desenhar o seu retrato em corpo inteiro e em alma completa.
Confirmando a metade que cada um é do outro (ideia validada pelo carácter circular, e simbólico, das alcunhas que preenchem e completam os seus nomes próprios, Sete-Sóis e Sete-Luas), Blimunda, projetada em sobrevida que a faz reaparecer como personagem no romance Lillias Fraser de Hélia Correia (2001), ou que também a imortalizará, agora transtextual e transmediaticamente (cf. Reis, 2015: 15-16), em várias telas do pintor José Santa-Bárbara (cf. Santa-Bárbara, 2013), acabará, contudo, por se nos mostrar irremediavelmente envelhecida e humanamente enfraquecida. Tal acontece no decurso dos nove anos em que procura Baltasar (Saramago, 1982: 353), depois de este, numa das viagens que faz de Mafra à serra do Barregudo, perto do Monte Junto, para inspecionar a passarola, inadvertidamente com ela subir no ar (335). Transformam-se, portanto, o rosto e os olhos, ficando o primeiro “impenetrável” e os segundos “parados, cujas pálpebras raramente batiam, e que a certas horas e certa luz pareciam lagos onde flutuavam sombras de nuvens, as sombras que dentro passavam, não as comuns do ar” (354). Sombras provocadas pela ausência física do companheiro que, todavia, simbolicamente sempre a acompanha.
É desta forma que, depois de sublimar em lágrimas a incapacidade de resolver o desamparo em que vive, talvez porque, como sugere o narrador, as lágrimas não sejam mais do que o alívio de uma ofensa (185), Blimunda se defende da tentativa de violação de um frade, matando-o com o espigão do companheiro (345). Em última análise, de modo não menos simbólico, e aceitando a dimensão fantástica do universo narrativo, em estreita aliança com os ideais humanistas do seu autor, é ela a principal responsável pela inscrição de uma linha de esperança na restauração futura dos valores (amor, amizade, rebeldia perante as normas instituídas) postos em cena pela trindade terrestre, composta por si, por Baltasar e por Bartolomeu (169). Assim recolhe e preserva Blimunda a vontade de Baltasar, que encontra a arder no auto-de-fé a que assistimos nos parágrafos finais da obra; assim culmina a procura que seis vezes a levara a passar por Lisboa, “esta era a sétima” (356), repetindo “um itinerário de há vinte e oito anos” (357), e assim se encerra um ciclo que, porém, apenas suspende a dinâmica de mudança social e religiosa que a trindade ilustra, até que, noutros espaços e noutros tempos, um outro narrador venha a fazer reaparecer a vontade de Baltasar e do que ele representa (cf. Arnaut, 2006).
Em 2022, por ocasião do Centenário de José Saramago, o conjunto de gravuras e serigrafias Mulheres Saramaguianas contemplou Blimunda como uma das personagens que foram objeto de criações intermediáticas.
Referências
ARNAUT, Ana Paula (2006). “O outro lado da personagem: a (re)criação de Blimunda”, in Carlos Reis (org.), Figuras da ficção. Coimbra: CLP. 39-53.
CHAVES, Castelo Branco (tradução, prefácio e notas) (1983). O Portugal de D. João V visto por três forasteiros. Lisboa: Biblioteca Nacional.
MARINHO, Maria de Fátima (2009). A lição de Blimunda. Porto: Areal.
REIS, Carlos (2015). Pessoas de livro. Estudos sobre a personagem. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra.
RICHARDSON, Brian (2012). “Unnatural narratology: basic concepts and recent work”. Diegesis. 1.1: 95-103.
SANTA-BÁRBARA, José (2013). Vontades. Uma leitura de Memorial do convento. Lisboa: Caminho.
SARAMAGO, José (1982). Memorial do convento. Lisboa: Caminho.
––––– (1990, 15 maio). “Blimunda, nome com música”. Jornal de Letras, Artes e Ideias. nº 410: 29.
[publicado a 17-04-2019]