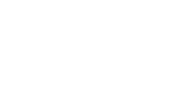T
T (Augusto Abelaira, Bolor)
A designação “T” corresponde à última palavra, enigmática, que fica em suspenso, no diálogo que encerra Bolor (1968). “T” será a palavra “tu”, amputada, à espera que o leitor a complete, preenchendo o sentido do texto e, por conseguinte, um convite à integração de qualquer uma das personagens indefinidas que vão surgindo na obra, inclusive como instâncias de autoria textual. “T” será, portanto, a personagem essencial (porque, afinal, de modo pirandelliano, é todas as personagens possíveis) desta narrativa insidiosa, como o fungo que lhe dá título, diferente de todas as outras narrativas porque instituída num espaço indefinido, suspenso no universo burguês, num tempo com contornos precários (as duas entradas finais surgem sem data e a ordem dos capítulos revela-se, paradoxalmente, arbitrária) e sem ação de relevo.
O título de Bolor advém de um poema homónimo de Carlos de Oliveira, que lhe serve de epígrafe. A partir deste paratexto, o romance delimita os seus temas essenciais: a radical impossibilidade de comunicação entre as pessoas e as consequências que daí decorrem na constituição de laços fortes; a usura do tempo nas relações humanas; o falhanço das tentativas de definição do ser através das diversas formas de representação disponíveis (“os versos” e o “espelho”, no poema em epígrafe) ou, por outras palavras, a impotência da linguagem na sua tentativa sempre fracassada de representação ontológica; o divórcio entre o ser e o seu conhecimento.
Estas múltiplas questões gnosiológicas, porque debruçadas sobre a capacidade humana de conhecer o mundo e os sujeitos nela, são paradoxalmente exploradas através de uma forma de escrita que, em vez de revelar a plenitude do ser a si mesmo, vem revelar o insucesso de qualquer empreendimento em busca da verdade: a escrita diarística.
O romance apresenta-se como um diário escrito por Humberto, com capítulos cujos títulos correspondem a diferentes datas concretas, que tenta através da escrita conhecer-se, conhecer a sua mulher, Maria dos Remédios, assim como as intricadas relações que estabelece com os seus amigos (em particular, com Aleixo). Em todo o caso, nada é linear na escrita de Abelaira, profundamente influenciado pela lógica de experimentação do nouveau roman, que reconfigura por completo as coordenadas do romance português do neorrealismo de segunda fase. Com efeito, ao fim de alguns capítulos, o leitor deixa de perceber qual o estatuto da obra, pois a reivindicação da sua autoria passa a caber tanto a Humberto, como a Maria dos Remédios ou a Aleixo, tornando-se impossível entender se o diário é forjado por Maria dos Remédios, que se poria na pele do seu marido, ou se é criado por Humberto ou Aleixo como texto a dar a ler sub-repticiamente a Maria dos Remédios e a Humberto.
A escrita diarística, tradicionalmente associada à ideia de revelação da verdade, sem filtros nem subterfúgios, na medida em que é a expressão íntima dos sentimentos e dos pensamentos mais recônditos, transfigura-se, portanto, neste romance, sob o signo de uma ficção omnipotente que tudo arrasta na sua voragem. Verdade e ficção tornam-se indiscerníveis, ao ponto de o narrador escrever, na entrada relativa ao dia 1 de abril (data associada à ideia de mentira autorizada e normalizada), o seguinte: “Divirto-me: neste momento sou o Humberto que sonha ser o Aleixo ou o Aleixo que sonha ser o Humberto? Ou o Humberto que sonha ser a Maria dos Remédios que por sua vez sonha ser o Aleixo que por sua vez sonha ser o Humberto que por sua vez sonha… Ou o Aleixo que sonha ser a Maria dos Remédios que por sua vez sonha ser o Humberto que por sua vez… Ou a Maria dos Remédios que sonha ser o…” (1986: 109).
As coordenadas tradicionais da escrita de cunho autobiográfico são subvertidas, assumindo o/a narrador/a da entrada relativa ao dia 2 de abril que “o meu diário é uma brincadeira, não o escrevo na minha primeira pessoa, mas na primeira pessoa dos outros. Por exemplo, na tua” (1986: 114; itálicos nossos).
A indefinição do estatuto do texto é paralela à impossibilidade de o sujeito autor se transformar em objeto da sua escrita, na medida em que a linguagem é incapaz de proceder à sua fixação ontológica, quando, afinal, tudo se apresenta em inevitável devir. O autor textual, eternamente mutável, é o correlato objetivo de cada um dos alegados pseudoautores empíricos do diário, que são, por sua vez, no fundo, as personagens da ficção que a vida constitui cada vez que se pretende representá-la linguisticamente.
A reflexão sobre as limitações da linguagem são, assim, constantes, sobretudo a partir do momento em que o/a narrador/a realiza duas descobertas distintas e complementares: que ele/a se revela e transforma no momento da própria enunciação do discurso e que o discurso lido nunca é capaz de revelar a plenitude dos factos e será sempre alvo de interpretações erróneas por parte do leitor (que preencherá vazios de sentido à revelia da intenção do/a autor/a). Assim, o discurso será sempre “deturpação perfeita de tudo quanto se passou” (1986: 26).
Neste exercício constante de reconfiguração das coordenadas tradicionais daquilo que é concebido como um diário, Bolor transforma-se em obra metaficcional, cuja abrangência se alastra até à consideração daquilo que é (ou pode ser) um autor e à reflexão sobre todas as (in)capacidades da linguagem. A especularidade da prática da mise en abîme transforma-se num procedimento vertiginoso que vem realçar uma única realidade: a construção da verdade do texto depende incontornavelmente da relação entre o autor e o leitor, dos jogos de linguagem que se estabelecem entre os dois, num movimento dinâmico incapaz de admitir a sua paragem, dado o risco da sua desintegração. Deste modo, o conhecimento (do mundo, dos outros, de nós, etc.) depende sempre da transformação em ato linguístico daquilo que existiria a priori como potência extraverbal.
Nessa medida, ninguém existe, isto é, o sujeito não se configura, a não ser na sua relação com o Outro, daí que seja impossível definir um sujeito independente e autónomo. Este só existe no seu contacto com os outros. Por conseguinte, a linguagem como ponte de ligação é a substância da humanidade e condição de existência dos sujeitos (e, narrativamente, das personagens). A linguagem, para cumprir esta sua função, deve ser transformada em ato, pois, em potência, nada é. Por outras palavras, “a gravidade das palavras não está nunca na roupagem metafísica com que as cobrimos” (1986: 24).
A consequência mais visível deste processo é apresentada no discurso: “peguei na caneta, escrevi eu…, mas depois decidi que o sujeito da frase, de todas as frases, deveria ser nós” (1986: 142). Ninguém existe por si só e a sua definição depende do olhar do Outro, nesse devir constante que a vida constitui e em que a alteridade é o fundamento do ser.
Essa parece ser a conclusão fundamental de Bolor, que quase tudo questiona e põe em causa. O sujeito que escreve “na primeira pessoa dos outros” (loc. cit.) é a mesma personagem que afirma o seguinte: “à custa de querer pensar como tu pensas, de querer escrever o que tu escreves, acabei por perder-me de vista. Descobrir que quase não tenho vida própria – a minha vida própria transformou-se em adivinhar quem és, a minha vida própria, mesmo quando me limito a pensar, mesmo quando não escrevo, deixou de estar conjugada na primeira pessoa ou até na terceira pessoa referida a ti – mas numa primeira pessoa que é a tua” (1986: 102).
O fundamento da existência reside no Outro. A possibilidade de ser humano também. Neste jogo de máscaras em que todos se revelam ao mesmo tempo em que se escondem, o Outro, o interlocutor do diálogo, a alteridade, é a única boia de salvação.
A interpelação final, quando surge à última palavra do romance (“T”), é, apesar de tudo, uma promessa de continuação do ato comunicativo (isto é, do sentido da existência) neste romance do vazio, apresentado como paródia de um diário que se destrói ao mesmo tempo que as suas páginas vão sendo escritas, revelando, inexoravelmente, como diz Carlos de Oliveira, “a pobreza que somos”.
Referência
ABELAIRA, Augusto (1986). Bolor. 5ª ed. Lisboa: O Jornal.
[publicado a 19-02-2024]