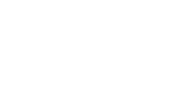Joaninha
Joaninha (Almeida Garrett, Viagens na minha Terra)
Na novela inserida por Garrett em Viagens na minha Terra (obra publicada em volume em 1846, depois de aparecer em folhetins na Revista Universal Lisbonense), Joaninha é a principal das personagens que contracenam com Carlos, o protagonista, numa relação que ilumina nuclearmente o significado da ação, colocada no tempo das lutas liberais. A envolver a narrativa metadiegética, está o discurso que o Narrador do livro, identificado com o Autor/Garrett, dirige na primeira pessoa, em vivo estilo "conversacional", aos leitores (e leitoras), registando, como se o fizesse sobre a hora, o que vê e pensa ao ir de Lisboa a Santarém, em 1843, para visitar um amigo (Passos Manuel). Intrigado pela casa antiga que descobre no fresco Vale das imediações da cidade, ele ouve a história dos que a habitaram cerca de dez anos antes, reproduzindo-a, intermitentemente, entre os capítulos 10 e 49 (o último) da obra. Tanto o que o Narrador vai dizendo nas suas digressões, como essa história que conta, ganham, pois, valência de “realidade”, imbricando-se tematicamente. A “novela da casa do Vale” funciona, de facto, como ilustração de vetores fundamentais das considerações do Narrador: a marcha fatal da história num suceder de atropelos entre espiritualismo e materialismo; o desastre português saído das lutas entre absolutistas e liberais, aqueles representados no extinto "frade”, estes nos que o haviam combatido (nós…) e, depois, no “barão” que a todos tinha “escouceado”, “usurariamente revolucionário, e revolucionariamente usurário” (Garrett, 2010: 181).
A confrontação entre Carlos e Joaninha é fundamental para a construção do sentido global da novela ao efabular, na inviabilidade do amor entre ambos, o conflito de cariz “rousseauniano”, subjacente a quantos a narrativa instaura, entre a inocência primitiva do homem e a sua degradação no contacto com a sociedade: Carlos, partindo da juventude rural feliz para a imersão no labirinto do mundo, com queda na “flutuação” interior, “inquieta e doentia” (282), na volubilidade amorosa e na metamorfose em barão liberal, personaliza a expulsão adâmica do Paraíso; a fresca Joaninha, de candura subsumida no terno diminutivo que a designa, é a representação metaforizada do estado de natureza, votado a perecer. As duas personagens, que forçosamente se desencontram, estão unidas na sua raiz por laços de sangue – são primos que se adoram – e pelo bom húmus que as alimentou, a casa familiar e o “rústico e selvagem” (441) Vale de Santarém que a envolve. Carlos, uns quinze anos mais velho, trouxe ao colo, no seu passado alegre, a graciosa Joaninha-criança, tornada no presente diegético a gentil menina-mulher, de dezasseis anos, que acompanha a avó cega na casa do Vale.
Nas cenas iniciais, estando Carlos no cerco do Porto ao serviço de D. Pedro, avó e neta recebem o seu habitual visitante das sextas-feiras, o soturno e austero Frei Dinis, guardião do convento de S. Francisco de Santarém: ele traz-lhes, em tom ominoso, notícias da guerra civil e do ausente, que amaldiçoa por tão desvairado julgar o naipe político em que milita, só apostado em enriquecer (cf. 193). Joaninha atua e fala muito pouco: apenas a vemos ajudando a avó com solicitude e amparando-a quando a ascética rigidez do frade a magoa ao prescrever-lhe com dureza a aceitação do sofrimento e a condenação de Carlos. É numa expressão mista “de fé e de incredulidade, de simpatia e de aversão” (189) que a jovem ouve o franciscano, reprovando o “Deus de terrores, de vinganças, de castigos, e sem nenhuma misericórdia” (285) que ele invoca.
Larga presença física – e moral – ganha, porém, Joaninha através do Narrador, por feições, gestualidade, inflexões de voz. Sem ser “bela”, possui um vulto “airoso” que é “o ideal da espiritualidade” (172); tem, por dom natural, uma “flexibilidade graciosa” e “ondulante”, que lembra a “hástea jovem” de uma árvore, “direita mas dobradiça, forte da vida de toda a seiva com que nasceu” (173). O “rosto sereno”, a pele branca e rosada, as sobrancelhas desenhadas numa “longa curva de extrema pureza” (175), a boca “pequena e delgada”, na expressão habitual da “gravidade” sem “a menor aspereza nem doutorice”, o cabelo castanho penteado com “singela elegância” (174), o “simples vestido azul escuro”, o “cinto e avental preto”, a voz “doce, pura, mas vibrante” (169) – tudo nela concorre para uma harmonia só perturbada pelos olhos, em “admirável discordância” por serem pasmosamente verdes, “verdes-verdes, puros e brilhantes como esmeraldas do mais subido quilate” (175).
Joaninha afasta-se, pois, dos estereótipos românticos da mulher-anjo ou da mulher-sílfide, de espiritualidade traduzida em beleza vaporosa: ela tem seiva, em conjugação metonímica com o espaço que a enquadra, o Vale de Santarém, que nunca abandonou. O Narrador evoca-o como um desses “lugares privilegiados pela natureza”, onde “tudo está numa harmonia suavíssima e perfeita”, de tal modo que parece que só “a paz, a saúde, o sossego do espírito e o repouso do coração” ali vivem um “reinado de amor e de benevolência” (157). Dentro deste espaço edénico, a casa que avó e neta habitam encontra-se num outro mais restrito – um maciço de verdura onde se entrelaçam faias, freixos, álamos, com grinaldas de madressilva e mosqueta, e o chão está alcatifado por plantas rústicas, a congossa, os fetos, a malva-rosa do valado; no recinto, cantam os rouxinóis…
Com o reencontro dos primos, alguns meses mais tarde, nesse Vale chocantemente ocupado agora pelas tropas litigantes, vem a segunda etapa da configuração ficcional de Joaninha, que acrescenta dados fundamentais: a energia natural que a anima traduz-se no amor que manifesta por Carlos, um amor total e sem mácula, como o Eros inocente que reinava no Paraíso antes do pecado. Se “ruína, desolação e morte” (235) se tinham espalhado em torno da casa do Vale, transformada em quartel e reduto militar onde ela pensa os feridos de ambos os campos, já a primavera está a renovar a natureza e a guerra a acalmar, quando Carlos (que enfim conhecemos!) – galhardo oficial – depara, num abrigo de verdura, com uma jovem adormecida sobre um banco rústico “tapeçado de gramas e de macela brava”, “meio recostada, meio deitada”, numa posição que desenhava “mole e voluptuosamente” as “formas graciosas de seu corpo” (243); profundamente surpreso, reconhece Joaninha… Em torno dela cantava um rouxinol, que cessara os seus trilos com o aproximar dos soldados que acompanhavam o chefe, mas os retoma quando ele, postadas as sentinelas a distância, regressa pé ante pé para junto da prima: a avezinha, como sentindo a pertença original de Carlos ao Vale, redobra os seus gorjeios… É, pois, de modo poeticamente metaforizado através de elementos naturais que a “Menina dos Rouxinóis”, como chamam os soldados a Joaninha num respeito sorridente, continua a ser apresentada, mas ganhando languidez feminina.
Carlos perturba-se com o vulto mulheril adquirido pela criança que sempre trouxera no coração. Pousa os lábios na mão da jovem, que acorda, alvoroçada, do seu habitual sonho com o primo; e unem-se num “longo, interminável beijo… longo, longo e interminável como um primeiro beijo de amantes…” (250). Deslaçam-se enfim – comenta o Narrador, solidário – porque “os reflexos do céu na terra são limitados e imperfeitos”. Num discurso entrecortado pelo pasmo e pela emoção, Joaninha fala ao primo numa visita à avó e na urgência de saírem daquele reduto onde estavam sós, propiciando comentários malévolos. Leva-o pela mão para o vale aberto; Carlos seguia-a “como (…) obedecendo ao poder de um magnetismo superior e irresistível” (253). “Daquele sonho encantado que os transportara ao Éden querido de sua infância” despertam-nos as vedetas de ambos os campos: e eles “viram-se na terra erma e bruta, viram a espada flamejante da guerra civil (…), que os expulsava para sempre do paraíso de delícias em que tinham nascido…” (254). Separam-se, marcando encontro para o dia seguinte, a fim de prepararem a visita à avó.
O mal que exclui do “paraíso de delícias” tem mais facetas, porém, do que a violência da guerra: é o que nos mostra, com admirável subtileza, esse encontro dos primos. Singulares sequências, no contexto da narrativa oitocentista, o precedem: o Narrador, colado a Carlos, dá-nos acesso, como por “fotografia mental” (276), à “excitação” que lhe “desafinara os nervos” (262) após ter deixado Joaninha. Assistimos às perplexidades em que o oficial se debate: que sentimento lhe inspira aquela “airosa donzela” que o beijara, aquela “mulher feita e perfeita, e que nada perdera, contudo, (…) do suave e delicioso perfume da inocência infantil em que a deixara” (264)? Amava – e “era obrigado a amar ainda” (265)! – essoutra mulher, bela e rica, que tudo lhe sacrificara em Inglaterra, quando exilado? Ir ou faltar ao prazo marcado pela prima? Carlos decide comparecer. Acompanha-o sempre o Narrador, a pedir compreensão para os dilemas do seu “herói”, uma daquelas “organizações privilegiadas de que se fazem os poetas e os artistas” (273). Para o provar, transcreve um fragmento das suas “aspirações poéticas” (273) dedicado aos olhos verdes da prima, poema em prosa de inovadora desarticulação, cheio de interrogações e frases suspensas, que nos desvela a função simbólica desse traço fisionómico: “no verde está o todo, a unidade da formosura criada” (275). Tais olhos contribuem, pois, para que Joaninha represente um ícone da natureza.
O encontro dos primos passa da efusão comovida a um adeus murcho. Insistindo na visita à casa do Vale, a jovem estranha as reticências do primo, aclaradas pelo Narrador: “Era a dúvida, era a fraqueza (…), a necessária falsidade do homem social” (292). A justificar-se, o oficial invoca a eventual proibição dos chefes, com uma insegurança que trai estar a mentir. Regista o Narrador: “Joaninha olhou para ele fixa… Carlos corou de novo. Ela fez-se pálida… Daí corou também” (292). No diálogo – tão simples e tão intenso! – que a seguir trocam, o oficial continua a tergiversar. À pergunta da prima sobre se permanecia o seu Carlos e lhe queria como dantes, responde com ilusória certeza: “Sou… Oh! sou. E amo-te”. “Como dantes?” – insiste Joaninha; ao que ele responde: “Mais”. A jovem, sem hesitação nem pejo, declara-lhe então: “Pois olha, Carlos: eu nunca amei, nunca hei de amar a nenhum homem senão a ti” (293). Comentando a cena, o Narrador mostra o seu espanto com a naturalidade deste “amo-te”, pronunciado por Joaninha “como se aquele tivesse sido sempre o pensamento único (…) de sua vida” (293). Carlos, esse, aterra-se: “No primeiro instante ia lançar-se nos braços da inocente que lhos abria num santo êxtase do mais apaixonado amor; no segundo, tremeu e teve horror da sua felicidade” (294). Invoca pretextos para recuar, olhando para a prima “com uma indizível expressão de afeto e de tristeza” (294). A alegria que iluminava os olhos de Joaninha amortece, passam do verde a um “polido mate e silicioso” (294): tinha adivinhado que Carlos trazia no coração outra mulher. “Oh! se tu soubesses…” (295) – diz-lhe o primo, abrindo via para futuras explicações. E despedem-se, com um “ósculo tímido e recatado” (296), de lábios frios e mãos trémulas.
Não voltam a encontrar-se a sós. Carlos, chamado a combater, deseja a morte como única saída das suas perplexidades e, ferido, é tratado por Frei Dinis e Georgina, a bela inglesa, vinda a Portugal, que o amava e ele “devia” amar. Na cela do convento do franciscano onde o oficial recupera, acompanhado por essa mulher superior que, tendo penetrado nos seus dilemas, quer casá-lo com a prima, tem lugar a patética anagnórise que descobre ser o frade o pai do jovem. Joaninha assiste com a avó às revelações, apiedada do sofrimento de Carlos: cada vez o ama mais, diz a Georgina que, abnegada, simula ter deixado de querer ao oficial. Carlos é que não supera tanta convulsão: abandona todos, juntando-se ao exército liberal. Nem ele, nem Joaninha, voltam a atuar no presente diegético.
É por Frei Dinis – que o Narrador encontra, mirrado, na casa do Vale, ao regressar a Lisboa – que se conhece o trágico destino dos que a habitaram: Carlos engordou, enriqueceu, tornou-se barão, será deputado um dia; Joaninha enlouqueceu e morreu (cf. 458). O frade dá a ler ao Narrador uma longa carta que ela recebera do primo, escrita (simbolicamente!) de Évora-Monte, em maio de 1834, local e data do triunfo dos barões liberais: com “espanto e horror” de si mesmo (442), Carlos explica à “menina dos Rouxinóis” como caíra em fragmentação interior e “morte” moral no ceticismo, tornando-se incapaz de amar a inocente que poderia revocá-lo do abismo.
Como vemos, Joaninha, sem deixar de ter alguma consistência física e psicológica, “vale” sobretudo como poética representação da inteireza natural, irrecuperável para os que perderam, como Carlos, a unidade e a transparência nativas.
Referência
GARRETT, Almeida (2010). Viagens na minha terra. Edição de Ofélia Paiva Monteiro. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda.
[publicado a 21-11-2019]