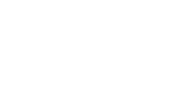Carlos
Carlos (Almeida Garrett, Viagens na Minha Terra)
Carlos é o protagonista da novela que Garrett enxertou em Viagens na minha Terra, obra publicada em volume em 1846 (aparecera em folhetins na Revista Universal Lisbonense). É um dos primeiros exemplos da nossa ficção de “atualidade”, com ação colocada durante as lutas liberais; e irrompe no livro quando o seu Narrador, identificado com o Autor/Garrett – que regista (como fazendo-o sobre a hora) o que vê e pensa ao ir de Lisboa a Santarém, em 1843, para visitar um amigo (Passos Manuel) – chega ao edénico Vale das imediações da cidade e reproduz a história, que lhe é contada, da poética casa que ali descobre. A narrativa metadiegética – que ganha pois, como o discurso do Narrador, valência de “realidade” – surge intermitentemente entre os capítulos 10 e 49 (o último) das Viagens, contribuindo para prender os leitores (e as leitoras) a uma obra feita de digressões, que lhes são dirigidas em tom frequentemente “conversacional”. Laços semânticos interligam digressões e novela.
Na luz e sombras da história da casa do Vale concretizam-se efetivamente perspetivas gerais abordadas pelo Narrador, como a marcha fatal da história num suceder de atropelos entre espiritualismo e materialismo (100), ou o desastre português saído dos conflitos entre absolutistas e liberais – aqueles representados no extinto “frade”, fechado para a ordem constitucional que podia ser sua amiga, estes representados nos que o haviam combatido (nós…) e, depois, no “barão” que a todos tinha “escouceado”, “usurariamente revolucionário, e revolucionariamente usurário” (181).
A novela – que não tem aventuras “enredadas”, como acentua o Narrador/Autor (p. 161) num dos comentários que faz à própria obra – desenvolve-se, sem linearidade temporal e com “suspense”, em cenas que construem dramaticamente as personagens através do que dizem, das posturas, dos gestos. O protagonista ganha consistência em etapas demarcadas. A primeira situa-se em 1832-33, naquela casa do Vale – a das raízes do “herói” –, enquanto ele, soldado liberal recém-chegado de Inglaterra e dos Açores, participa no cerco do Porto. As cenas iniciais apresentam quem vive ali – a avó cega que lhe servira de mãe, e Joaninha, a prima de 16 anos e olhos verdes, que Carlos trouxera ao colo – e quem as visita às sextas-feiras, o soturno Frei Dinis, guardião do convento de S. Francisco de Santarém, que lhes traz, em tom ominoso, notícias da guerra civil. Segue-se uma analepse com esclarecimentos relevantes: a orfandade dos dois primos; a rigidez ascética do frade, antigo magistrado, crente na filantropia do Evangelho, detrator dos campos políticos em litígio; o cuidado que dera à educação de Carlos, que ele esperava viesse a ser “homem de préstimo” por vê-lo “temente a Deus”, sem “ânimo cobiçoso nem servil”, isento da “mania do liberalismo” (208); a ida do jovem para Coimbra cursar Leis, retornando ao Vale, após formar-se em 1830 (o ano francês – e europeu – da grande revolução burguesa), “inteiramente outro do que sempre fora” (209), porque chegara triste, sendo de génio alegre; a apreensão do religioso com a modificação do discípulo, que atribui a más influências, exasperando-o ao querer proibi-lo de pensar em “desvarios” (209); o choque do frade com a decisão de emigrar tomada por Carlos, revelando-lhe que o fazia não pela razão que alegava – perseguição por liberalismo –, mas pela corrosão interior provinda de ter sabido de crimes que lhe poluíam a matriz familiar, com implicação dele e da avó; a angústia em que Frei Dinis caíra; a aflição da velha depois de conferenciar com o Franciscano, tanto chorando que cegara; o retraimento de Joaninha perante ele a partir de então. A ação “presente” avança noutra sexta-feira: Frei Dinis é portador de uma carta de Carlos, vinda do Porto e só dirigida à prima, uma carta fraterna onde dizia não contar revê-la.
Deste exórdio, que instaura no percurso do “herói” vetores fundamentais – a salubridade das origens rústicas, a perda da confiança juvenil, a fragilidade da adesão liberal –, passa-se à segunda etapa da construção da sua identidade, colocada alguns meses depois no Vale de Santarém, ocupado pelas tropas litigantes. Carlos, ganhando vulto pela mão admirativa do Narrador, é agora um oficial galhardo, envergando a farda constitucional: olhos vivos, que “denunciavam o talento, a mobilidade do espírito (…), a nobre singeleza de um caráter franco, leal e generoso”, “testa alta e desafogada”, cabelo e barba pretos, boca desdenhosa, não por soberba mas por consciência de “uma superioridade inquestionável” (247). Num recendente abrigo de verdura, ele depara, surpreso, com uma jovem adormecida em quem reconhece Joaninha. Como acordando de um sonho, ela – a “Menina dos Rouxinóis” que os soldados respeitam – estreita nos braços o primo, dizendo-lhe sem pejo que o ama; Carlos perturba-se com o vulto mulheril adquirido pela criança que sempre trouxera no coração. Unem-se espontaneamente num “interminável beijo”, “como um primeiro beijo de amantes” (250). É contudo num adeus murcho que se despedem no dia seguinte, quando se reencontram para prepararem a visita à avó que Carlos prometera: as reticências dele, invocando a eventual proibição dos chefes, entristecem Joaninha, levando-a à conclusão de que estava enamorado por outra e sem empenho em retomar contactos. Pelo Narrador, que nos faz entrar, como por “fotografia mental” (276), no íntimo do “herói”, imaginativo e poeta, vemos que são de facto perplexidades afetivas que o inibem: não sabe definir o sentimento que lhe inspira a prima, de olhos da cor da “unidade da formosura criada” (275), nem o que o liga à inglesa que tudo lhe sacrificara no exílio, Georgina, que ele amara e devia continuar a amar. Carlos, em contraposição com Joaninha, mostra-se, pois, fragmentado; tem por si, porém, a simpatia do Narrador, que explica “rousseaunianamente” a sua ambivalência pela queda adâmica que atinge o homem, nascido para a paz feliz do Paraíso, a que continua a aspirar (e ninguém, mais do que este “excecional” Carlos, desejava “regenerar-se na santa liberdade da natureza”) (281), mas caído em “flutuação inquieta e doentia” sob o aperto deformador das malhas sociais (282). Quem nada entende de conflitos íntimos e paixões é a soldadesca rude que observa o encontro dos primos, rindo do seu capitão namorador e da história enrevesada da sua família, com um frade “apostólico” de permeio, bom para levar um “famoso tiro”: todos “malucos”, Carlos, Joaninha, Georgina! – dizem os tropas (258), mofando dos corações vibráteis, que assim ficam valorizados como um escol.
Na terceira etapa estamos em Santarém, pouco depois, numa cela do convento de S. Francisco, onde Carlos recupera, velado por Georgina, de ferimentos de guerra que o tinham levado ao hospital, onde fora tratado por ela e Frei Dinis. Carlos fala exaltadamente à inglesa do amor que ainda lhe tem; mas Georgina retrai-se: embora mostrando a total dedicação de sempre, diz-lhe que se apercebera da perturbação em que ele entrara após reencontrar Joaninha, e anuncia a intenção de favorecer o casamento dos primos, trazendo felicidade à avó e ao frade. A veemente reação de Carlos ao ouvir nomear Frei Dinis e a patética irrupção deste no quarto, pedindo perdão, precedem a anagnórise que desvela o passado tenebroso da casa do Vale: Frei Dinis é o pai de Carlos e o assassino, em autodefesa, dos dois homens que outrora o tinham acometido no rio em noite de cheia e que ele só reconhecera já cadáveres – o marido da mulher que amava e o amava (a mãe de Carlos, filha da avó) e o pai de Joaninha (filho dela também). Carlos, transtornado, quase comete parricídio, mas acaba perdoando. Incapaz, porém, de permanecer junto dos seus, abandona o quarto, sabendo-se por carta que se juntara ao exército constitucional. Este soldado sem entusiasmo político e de coração escrupuloso, está pois ligado, por vínculos de sangue, ao frade de austeridade excecional que o educou, também vítima da fraqueza humana.
Nova etapa repõe-nos na ação de primeiro nível das Viagens, quando o Narrador/Garrett, cansado do que vira em Santarém, empreende o retorno a Lisboa e repassa na casa do Vale. Singular metalepse narrativa fá-lo deparar aí com Frei Dinis e a Avó, ela decrépita, ele descarnado, imóvel como uma estátua. E Joaninha… e Carlos? – pergunta ao Frade, como dando sequência ao que trazia no pensamento. O Franciscano responde que tudo à sua volta morrera, Santarém e Portugal também: nada vivia ali senão o seu pecado. As palavras com que o Narrador lhe retorque, dizendo conhecer a história da casa do Vale e falando-lhe todavia na misericórdia de Deus aprendida com o Evangelho, o coração e a mãe, comovem Frei Dinis, que não esperava ouvir ainda palavras tais; entrega-lhe então uma carta de Carlos a Joaninha, como se ele tivesse condições para entendê-la.
É esse texto confessional, datado de Évora-Monte e de Maio de 1834, que lemos com o Narrador, sem intromissões deste, na penúltima sequência da novela (capítulos 44-48), quinta etapa da construção de Carlos. Evocando sobretudo o exílio inglês, o “herói” explica à prima, com um implícito pedido de compreensão que se repercute nos leitores, como perdera o coração simples de que gozara no Vale ao contactar com o mal e a civilização emoliente. O opróbrio descoberto na família corroera-lhe a inocência e a confiança; resvalara depois em ambiguidades e mentiras: seduzira-o a “branda atmosfera artificial” (424) do conforto britânico – Carlos, conquistado pelo requinte estrangeiro, adquire facetas dândis –,“flirtara” (426), julgara amar sucessivamente três irmãs – Laura, Júlia, Georgina – da distinta família inglesa que o acolhera, encantara-se logo a seguir, nos Açores, com a freira Soledade. Assim disperso, um “aleijão moral” (441) com “poderes de mais no coração” (421), como poderia consagrar-se a Joaninha? Via, porém, com os “olhos de alma”, que só ela e o Vale salubre poderiam revocá-lo do “abismo” onde o dilaceravam as paixões (440). Com o cariz de um D. Juan romântico, sequioso de totalidade e amor, mas incapaz de voltar à pureza primeva e dar-se, Carlos termina a carta dizendo um adeus definitivo à prima e afirmando, no ceticismo desesperado de quem perdeu o coração, que talvez se tornasse “homem político”, viesse a “falar muito na pátria” com que se não importava e a “palrar” dos serviços que nunca fizera “por vontade”, até acabar “em agiota”, a “única vida de emoções” para quem já não podia ter outras (456). A coincidência em data deste trágico confiteor de Carlos com a Convenção de Évora-Monte, que pôs termo à guerra civil, com triunfo dos barões liberais, gera em torno da personagem uma aura simbólica que acentua a exemplaridade do seu caso.
Lida a carta, contrita mas não isenta de narcisismo, tanto “espanto e horror” de si mesmo (442) exibe (mas quem será capaz de condenar Carlos?), chega o epílogo das Viagens – sexta etapa da construção do “herói” –, que retoma o diálogo do Narrador/Autor com Frei Dinis. Este dá a conhecer as circunstâncias finais da história da casa do Vale: Carlos engordou, enriqueceu, fez-se barão, virá talvez a ser deputado; Joaninha enlouqueceu e morreu, Georgina converteu-se ao catolicismo e ingressou na vida monástica… Do plano individual, a conversa alarga-se a uma ponderação do destino português, que remata temas das divagações do Autor/Narrador. Este – que revela (nova pirueta metalética!) ter sido companheiro de Carlos em Coimbra (458) – e o Frade, escarmentados pela experiência, confluem no juízo de terem errado sem remédio os naipes políticos a que tinham pertencido, ao oporem-se.
As digressões e os comentários do Narrador/Garrett à história da casa do Vale colocam-no em rendoso paralelo com Carlos, reforçado nas metalepses. As semelhanças que apresentam são muitas, tantas, que se tem dito ser a personagem um “alter ego” do Autor (que, para mais, é solidário com ela): ambos formados em Leis em Coimbra, soldados liberais exilados, espíritos solicitados pela beleza, corações vibrantes mas voláteis, cultores da elegância dândi e de um modo de escrever “desaliteratado” e dúctil. Mas demarcam-se: frente ao “herói” que desanda em “barão”, o Narrador/Garrett, situado historicamente uma década depois da tragédia contada (e que esclarecedor, esse intervalo – o do setembrismo e cabralismo!), mostra-se um liberal autêntico, que repudia a esterilidade do País entregue à ganância estúpida e sectária, invoca o Evangelho e crê ainda em virtualidades regeneradoras – as da natureza simples, da bondade humana primordial, das veneráveis tradições da nossa “boa terra” (461), da salubridade do “povo-povo” (410), do empenho de alguns (como Passos Manuel) na reconstrução nacional (418).
Concluindo: é bem um “herói” romântico, Carlos. De íntimo ferido no confronto da sua pureza primitiva com a poluição do grande mal e da sociedade dispersora, ganha configuração ficcional pela representação de um mundo subjetivo intenso, fragmentado, complexo, posto em relevo pela contraposição a várias personagens e pela articulação com um tempo histórico em devir, também exemplificativo do descambar fatal dos ideais.
Um documentário sobre este livro foi exibido pela RTP em 2009, produção de João Osório, como parte da série Grandes Livros.
Referência
GARRETT, Almeida (2010). Viagens na minha terra. Edição cítica de Ofélia Paiva Monteiro. Lisboa: INCM
[publicado a 12-06-2017]