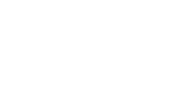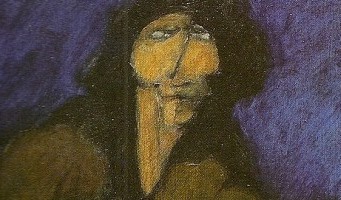Edmundo Galeano
Edmundo Galeano (LÃdia Jorge, Estuário)
Protagonista da obra Estuário (2018), de Lídia Jorge, Edmundo Galeano é o mais novo dos cinco filhos do patriarca Manuel Galeano, um armador de Lisboa e, inicialmente, empresário de sucesso. Diferentemente dos seus dois irmãos mais velhos, Alexandre e Sílvio, que continuaram o legado empresarial do pai em Lisboa, Edmundo escolhe partir como voluntário para Dagahaley, um dos campos de refugiados em Dadaab, no Quénia. Esta sua experiência marcará permanentemente quer o seu corpo, quer a sua mente: fisicamente, fica com a mão parcialmente decepada devido a um acidente; mentalmente, a sua visão do mundo modifica-se radicalmente, por ter presenciado o sofrimento dos refugiados. Com isto, a escritora imprime uma marca de individuação indelével na personagem, tornando-a substancialmente diferente e única, quer em comparação com os membros da sua família, quer relativamente a qualquer ser mais egoísta e autocentrado.
O leitor assiste à tomada de consciência desta diferença de posicionamento e de atitude por parte do próprio Edmundo, na medida em que a autora utiliza com muita frequência a perspectiva dele para narrar a sua história, sem deixar de a inserir num jogo perspetivístico assimétrico; nesse jogo, o ponto de vista do protagonista alterna com as perspectivas, menos extensas, dos seus irmãos e da sua irmã, ou mesmo do seu pai. Esta estratégia narrativa imprime no romance um ritmo simultaneamente cativante e funcional, que permite ao leitor seguir as diferentes histórias entrelaçadas. Através da concessão da perspetiva narrativa aos diversos membros da família, vão-se encaixando as peças do imbróglio económico familiar: a falta de resposta ministerial ao projeto que envolvera a transformação de dois navios, o Horizonte e o Batalha, de modo a transportarem água para zonas carentes dela. Embora com alguns meandros mais latos, estes problemas desenrolam-se num contexto sobretudo doméstico e nacional, ao passo que a história do protagonista coloca questões de âmbito mais internacional e global; com efeito, logo no início, é narrada a decisão tomada por Edmundo de partir, na medida em que o protagonista vai dando conta, progressivamente, de diversas situações por si vivenciadas no campo de refugiados, onde se cruza com gente de diversas nacionalidades.
Um episódio charneira do romance é aquele em que se explica como o protagonista fica com a mão parcialmente mutilada e perde os três dedos, restando-lhe apenas o indicador e o polegar. Edmundo, atraído pela gritaria das crianças e por gemidos estranhos, retira de um contentor de lixo um recém-nascido, mas, acidentalmente, a meio da sua ação a tampa cai, arrancando-lhe parte da mão direita. Este salvamento modificará para sempre a sua vida, mas sobretudo irá alterar o destino da jovem puérpera Abibi, uma corredora da Somália que tinha sido violada na guerra. Trata-se de um ato extremo de rejeição, com as implicações psicológicas e sociais decorrentes de se tratar de uma criança gerada pela guerra; o alcance daquele ato é mitigado quando o jornalista irlandês, que tinha vindo fazer uma reportagem sobre o campo Dagahaley, decide omitir o filicídio na sua gravação para transmissão televisiva. O próprio Edmundo não conta estes detalhes a umas jovens raparigas quando elas lhe perguntaram o que acontecera à sua mão – o que mostra como, para a sociedade europeia, com os seus padrões de conforto burguês, se torna difícil compreender a atitude da jovem, ou mais latamente, como é difícil entender o terrível que é gerado pelo horror. A autora, porém, não escamoteia as atrocidades e tem a coragem de pôr o dedo na ferida e, porfiando neste filão, intencionalmente coloca Edmundo a meditar sobre as diferenças abissais entre a fome sofrida pelos refugiados e a comida saudável da sua família, entre a precariedade das tendas e a solidez das paredes da sua casa, entre “privação absoluta” e a “bonança” do ambiente da casa paterna. (Jorge, 2018a: 35).
Pelo viés do testemunho, o protagonista almeja escrever sobre a realidade atroz com a qual contactou e, assim, de modo ficcionalmente operativo, funciona como elemento veiculador da informação para o leitor. Porém, o seu crescente pessimismo faz brotar nele a vontade de escrever uma larga mensagem apocalíptica (cf. Gago, 2022: 82) capaz de trazer aos homens a consciência do erróneo caminho que a sociedade está a percorrer, ao desequilibrar a já debilitada coesão entre os homens e a natureza.
Em contraponto (ficcionalmente orquestrado) com os posionamentos dos seus familiares, o protagonista expõe uma cosmovisão substancialmente voltada para fora, sendo capaz de migrar para o exterior, mesmo longínquo, de sair para o mundo, como, eufonicamente, o seu nome indicia. É representante, neste sentido, da movência em direção à alteridade e à compreensão do Outro, que os movimentos de voluntariado e de ajuda humanitária acionam. Esta sua ancoragem num mundo alargado é o que o faz integrar o rol dos voluntários congregados num espírito solidário com o intuito de combater a pobreza e a injustiça onde quer que ela possa surgir na terra. Assim, o seu nome faz jus também ao significado etimológico da palavra ed+mund, oriunda do inglês antigo, com anterior origem germânica, que significa “protetor” (mund) “da riqueza ou da prosperidade” (ead). A esfera de um azul luminoso entrevista por Edmundo, sob a égide da qual ele coloca a sua inspiração, amplia este sentido de dádiva ao mundo, simbolizando a totalidade, mas também o orbe inteiro (cf. Fernández García, 2020: 210), que deve ser preservado e protegido.
Impossibilitado de prosseguir esta via solidária, depois do seu regresso, Edmundo pretende comunicar a sua visão do devir calamitoso que nos espera, o qual tem vindo a ser preparado pelas decisões antiecológicas e antissociais da política global dominada pelo lucro económico. Mas se Edmundo quer avisar os seus semelhantes sobre o futuro apocalíptico, ele vai enfrentar um problema: precisa de dominar a escrita. A personagem envereda, então, por uma sua aprendizagem, acionando assim um dos vetores determinantes da sua moldagem enquanto personagem: Edmundo é um aprendiz da escrita e, por isso, copia e recopia a “Ode Marítima” do heterónimo Álvaro de Campos e também a Ilíada, textos por ele reputados como modelares, para ganhar a maestria do dizer e da comunicação literária. Por este viés, a obra ganha uma dimensão de romance de aprendizagem, corroborada pela autora (Jorge, 2018b: §15), ao mesmo tempo que põe a nu a montagem e construção da escrita, revelando a componente metarreflexiva da obra.
Contudo, o espaço-tempo reservado por Edmundo para aprender a controlar o processo comunicativo é constantemente invadido pela irrupção de atribulações familiares: o suicídio do pai, as diversas solicitações dos irmãos, devido ao desmoronamento do equilíbrio familiar. Na verdade, no seu afã de pensar o global, Edmundo desvalorizara o local, ou seja, a família com os seus comezinhos e quotidianos problemas. Sucede, então, um momento de viragem no protagonista: confrontado com a hipótese de a Tia, matriarca da família, vir a ser assassinada, Edmundo ultrapassa a sua decisão de não-interferência e vai questionar Amadeu Lima, o ex-companheiro da irmã Charlotte, agora com responsabilidades no governo, acerca da indecisão governamental sobre o projeto da família. Subtilmente, a autora coloca aqui o dilema de uma escolha entre o global e o local. Não que o primeiro seja desvalorizado – até porque, em termos de extensão, a questão internacional ocupa uma grande parte do romance. Porém, nesta parte do relato, acentua-se como a atitude do protagonista de não-interferência a nível local também se torna problemática.
Por isso, Edmundo decide, no final, escrever não sobre o mundo e a terra em geral, não sobre as guerras e o mal que derramam, mas sobre quem conheceu e com quem emocionalmente se ligou. O estuário constitui um símbolo do que lhe fica perto e que, por fim, Edmundo escolhe narrar; mas este perto não deixa de conter as memórias, gravadas a ferro, das suas experiências passadas. Neste sentido, Edmundo não representa a desistência intervencionista, mas sim a procura de um caminho para registrar o simbolismo que emerge da sua mão mutilada enquanto marca do mal – um mal que rouba ou retira algo para sempre, sendo, portanto, da ordem da subtração. Perseverando em querer escrever, Edmundo funciona, pelo contrário, como representante simbólico do homem que adiciona, porque constrói algo através da força perdurável da escrita.
Bibliografia
FERNÁNDEZ GARCÍA, MariÌa JesuÌs (2020). “MetaÌforas para un nuevo tiempo en ‘Estuario’ de LiÌdia Jorge”. In Turia: Revista cultural, nº. 136, pp. 205–11.
GAGO, Dora N. (2022). “A escrita do apocalipse em Estuário de Lídia Jorge”, in Journal of Lusophone Studies, 7.1 (Spring).
Jorge, Lídia (2018a). Estuário. Lisboa, Publicações Don Quixote.
Jorge, Lídia (2018b). “A arte eÌ uma revolta contra a HistoÌria”. Entrevista concedida a Isabel Lucas, in Público. Leituras, 12 de junho de 2018.
[Publicado a 8-7-2025]